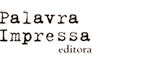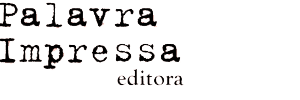O que são artigos open access?
Artigos open access são manuscritos acadêmicos disponíveis para consulta gratuita na internet, em sua versão completa (não apenas o resumo). Não há cobrança dos leitores, e há respeito à preservação do direito autoral de quem publicou.
A difusão do conteúdo das obras científicas é necessária para o progresso da ciência e, no caso da medicina, para melhorar a saúde das populações. É por meio do acesso às evidências científicas, ao que está sendo publicado internacionalmente em revistas revisadas por pares, que pesquisadores locais podem aprimorar suas investigações e prover o melhor cuidado aos pacientes. O problema é que nem sempre se tem acesso às publicações que trazem essas evidências.
Num passado recente, em que não havia acesso à internet, “estar por dentro” significava frequentar congressos, assinar revistas científicas internacionais (e pagar caro por isso) ou ter contato direto com pesquisadores nacionais ou estrangeiros. O advento da internet facilitou o acesso aos resumos dos trabalhos publicados pelas melhores revistas, que estão indexadas. No entanto, o acesso aos artigos completos ainda era prejudicado, e nem todas os detalhes metodológicos, de resultados e sua discussão podem ser dispostos nos resumos (abstracts). Ou seja, há sempre uma enorme demanda, por parte dos leitores, pela leitura dos artigos completos.
A divulgação dos resultados das pesquisas também interessa aos autores: eles não publicam por dinheiro, posto que geralmente as editoras das revistas não pagam a eles pelas publicações. Esses pesquisadores são pagos pelas universidades e pelos financiamentos à pesquisa que obtiveram para cada trabalho. Os artigos são o relatório dos resultados dessas pesquisas. Eles publicam para terem seus achados divulgados para o maior número possível de pessoas no mundo, fomentando o intercâmbio. No entanto, as grandes editoras de revistas biomédicas ainda têm nas assinaturas das revistas sua principal receita. Portanto, abrir os artigos completos para consulta gratuita pode significar um “tiro no pé” financeiramente.
O movimento do open access foi criado na década de 1990 para prover acesso mundial aos periódicos científicos/acadêmicos gratuitamente, aumentando sua visibilidade, uso e impacto. A solução financeira para o desafio de publicar sem cobrar (nem pelo acesso nem pela assinatura) é cobrir as despesas com diversas alternativas, muitas delas bem criativas: fundos de financiamento de agências de pesquisa, governos e outras instituições, além das próprias universidades e laboratórios que empregam os pesquisadores e que têm suas próprias revistas on line. O dinheiro também pode vir de pessoas ou instituições amigáveis à ideia, como a Fundação George Soros. Algumas editoras têm também oferecido a possibilidade de abrir certos artigos ao público gratuitamente, mas cobram dos autores uma taxa (frequentemente de mais de mil euros) para isso.
É estimado que apenas 20% dos artigos científicos publicados todo ano estão disponíveis gratuitamente (por open access). Alguns estudos já provaram que o sistema open access aumenta o impacto (ou seja, o número de citações, não apenas a visibilidade do estudo) muito substancialmente, seja na comparação entre revistas abertas versus não abertas, seja comparando-se artigos não abertos versus aqueles cujos autores pagaram para que se tornassem abertos após a publicação. Embora as análises tenham sido feitas em áreas como computação, astronomia e física, ao menos teoricamente podem ser transpostas para a área de medicina.
Para os pesquisadores do Pavilhão, vale lembrar a melhor lógica na escolha das revistas para publicar seus artigos:
– escolher sempre revistas indexadas, que têm maior qualidade e maior visibilidade;
– escolher as revistas com melhor classificação CAPES (geralmente indexadas);
– dentre as indexadas e com bom CAPES, escolher revistas que são open access ou que pelo menos possibilitam a abertura de artigos específicos mediante pagamento do autor: pode sair caro em termos financeiros, mas muito proveitoso em termos de número de citações do artigo (impacto).
Para ler mais:
Movimento Acesso Aberto Brasil. Disponível em: http://www.acessoaberto.org/. Acessado em 2010 (30 mar).
Citation Impact of Open Access Articles vs. Articles available only through subscription (“Toll-Access”). Disponível em: http://www.citebase.org/static/isi_study/. Acessado em 2010 (30 mar).
Budapest Open Access Initiative. Disponível em: http://www.soros.org/openaccess/read.shtml. Acessado em 2010 (30 mar).
Timeline of the Open Access Movement. Disponível em: http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/timeline.htm. Acessado em 2010 (30 mar).
Nature. Webdebates. Free online availability substantially increases a paper’s impact. Disponível em: http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html. Acessado em 2010 (30 mar).